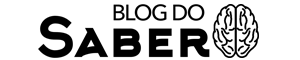Uma família miscigenada
Nasci numa família privilegiada, numa abundância promovida pelos meus avós paternos. Uma mulher muito sagaz, com traços do branco europeu e do indígena brasileiro, que casou com um homem passivo, com uma mistura de traços brancos e negros. Deram origem ao meu pai, o típico brasileiro nordestino: originado do branco com o negro e o indígena. Casou com a minha mãe, uma mulher cujo sangue carrega as marcas de todos esses povos, apesar de apresentar mais traços europeus do que qualquer outro.
Até certa idade, eu confundia a minha mãe com a minha babá. Chamava ambas assim: mãe. A típica babá brasileira, de pele escura – que, no senso comum, é tida como negra, mas que, um pouco mais tarde, no meu vocabulário de estudante de ensino médio, foi classificada como mulata -, a minha mãe escolheu diferenciá-la de si através da cor: “essa é a sua mãe preta e eu sou a sua mãe branca”. Eu não entendia o que ela queria dizer com aquilo, mas, a partir dali, passei a enxergar as cores nas pessoas.
Essas seriam as formas sociais como a ideia de raça é construída?
Projeto Genoma Humano
Hoje, “a raça e a etnia ainda são usadas com frequência para categorizar as populações humanas como grupos biológicos distintos”. No entanto, já faz 25 anos que o Projeto Genoma Humano trouxe evidências de que, apesar das semelhanças em aparência num mesmo grupo, “há mais variação genética dentro dos grupos raciais do que entre eles”. Isso acontece a nível de linhagens ancestrais, revelando padrões históricos de migração.
O sequenciamento dos genomas dos negros americanos revela ecos da história da escravidão transatlântica.
Eles não só misturaram a ascendência genética de alguns países da África Ocidental de onde seus ancestrais foram retirados, mas também quantidades significativas de DNA de europeus brancos.
Isso reflete o fato de que os proprietários de pessoas escravizadas mantinham relações sexuais — muitas das quais não eram consensuais — com escravizados.
Portanto, a simples categorização dos descendentes dos escravizados como “negros” também não faz sentido do ponto de vista biológico.
Eles são geneticamente diversos por si só, e diferentes dos ancestrais africanos dos quais descendem. Colocá-los juntos não faz sentido do ponto de vista científico.
Evidências a se declarar
Em virtude da minha posição social, classificar-me dentro de uma raça, nunca foi uma questão ou uma necessidade. Até eu me deparar com as declarações de cor e raça em meio à burocracia brasileira. Eu já tinha ouvido falar que um bisavô materno era negro e que uma bisavó paterna tinha muitos traços negroides. Ter essas informações me deixava extremamente intrigada e desconfortável para fazer uma auto declaração de cor e raça. Eu simplesmente não sabia o que responder e me questionava qual era a necessidade daquilo. No final, acabava sempre optando pelo pardo.
De tanto questionarem sobre a minha raça, passei a evidenciar os meus traços negroides, que já eram apontados como de uma natureza estranha e, até mesmo, em forma de deboche, pelos conhecidos. A minha raça já não era mais uma questão, mas eu não fazia ideia de que outras origens eu ainda evidenciaria.
Nas andanças pelo mundo, todos tentam adivinhar a minha nacionalidade, dentro até do próprio Brasil. Perguntam se sou japonesa, descendente de japonês… Assim como já perguntaram se sou italiana, francesa, mexicana e até ucraniana. Mas, japonesa, foi algo que ultrapassou o estranhamento padrão. Lembro de uma vez que um professor do ensino médio, não sei em qual situação, disse que eu era amarela. Na época, achei que eu podia ter alguma doença hepática. Recentemente, juntei uma coisa com a outra e me dei conta, finalmente, dos meus traços indígenas. O que fica muito claro quando olhamos para os japoneses que migraram para o norte do Brasil, queimaram um pouco das suas peles com o sol do trabalho no campo e, hoje, confundem-se com a comunidade originária da região.
Questiono-me: é assim que se dá a construção da ideia de raças? A partir de um estranhamento que, em seguida, torna-se uma demanda burocrática?
Possibilidades de existência
Há alguns dias, precisei consultar a minha certidão de nascimento e o meu marido disse: “olha, você é branca!”. Pela primeira vez, eu evidenciava como os meus pais haviam me declarado. Não que a branquitude não estivesse presente na minha família de diferentes tons de pardo, mas parecia estar somente numa estratégia prática e desesperada de uma mãe enciumada, em fazer a sua pequena filha entender que ela deveria, antes de qualquer outra pessoa, ocupar um maior espaço naquele coraçãozinho, já que havia tanto desejo, expectativas e dedicação de sua parte.
Hoje, prestes a parir, estou convencida de que, de acordo com o que aprendi sobre miscigenação, a minha filha é parda. Mas o desconforto sobre a declaração de sua cor e raça retornam, porque acho que nunca entendi muito bem a necessidade de olhar para a coloração das pessoas. Afinal, eu tinha duas mulheres que me amavam e que se dedicavam a mim e era só isso que me importava naquele momento. Essas eram as “true colors” das minhas mães.
No final das contas, o mal-estar na civilização nunca falha. Há sempre uma necessidade de se classificar, de nomear, de colocar as pessoas em caixas, em grupos, em raças. Afinal, enquanto se aponta para o outro, não é preciso olhar para si. É possível passar por cima, não somente das provas cabais, mas da nossa própria insignificância e impotência diante de todas as possibilidades de existência.
Já fui branca, amarela e parda. O que mais posso ser? Em quantas confusões e estranhamentos ainda é possível me colocar?